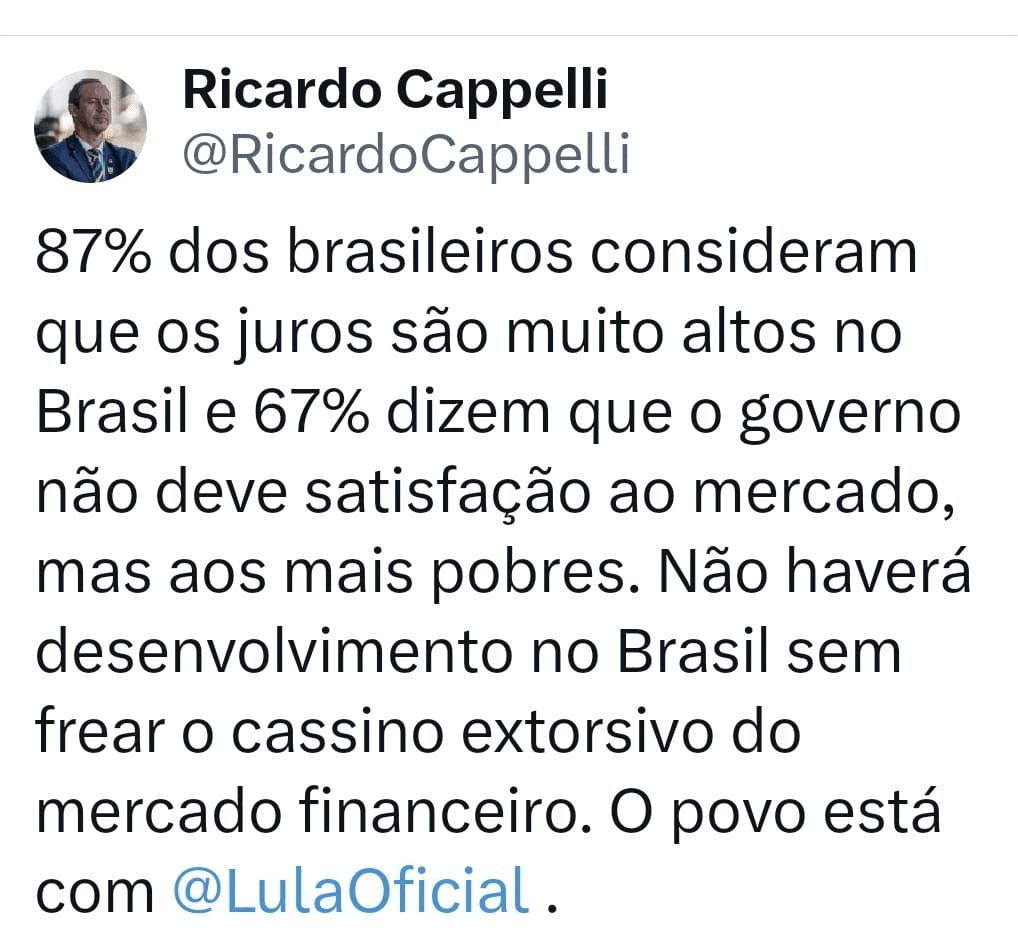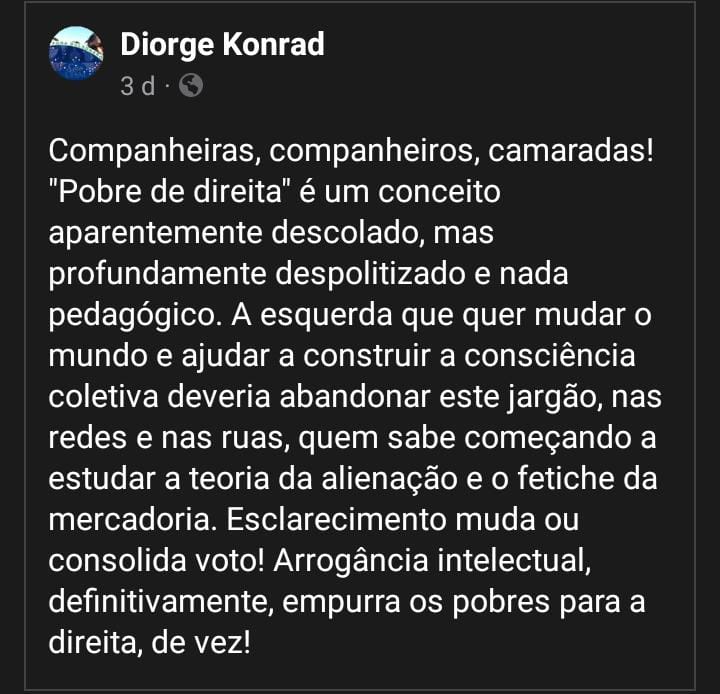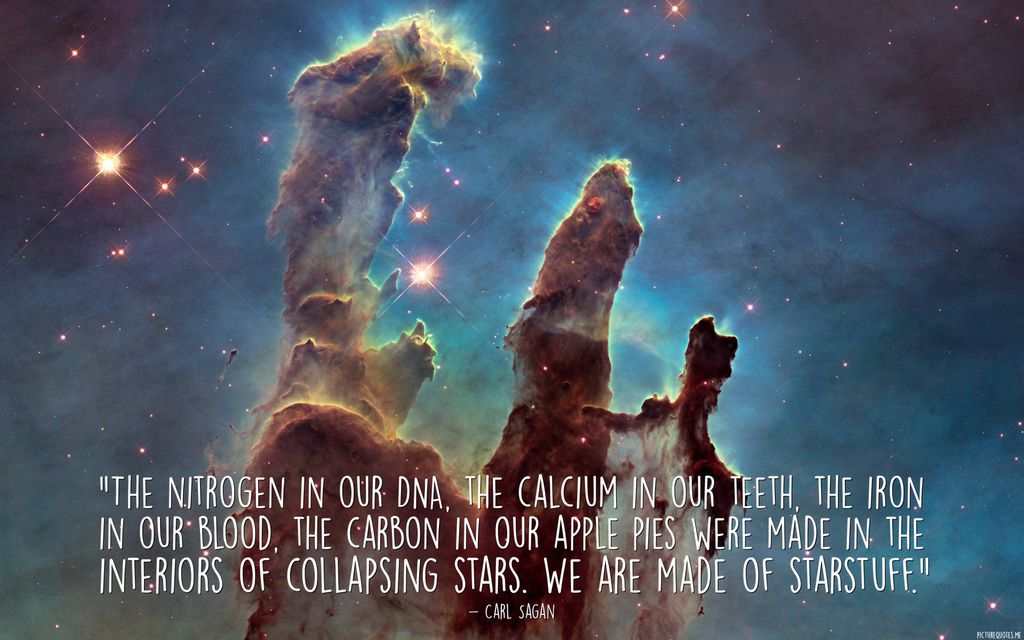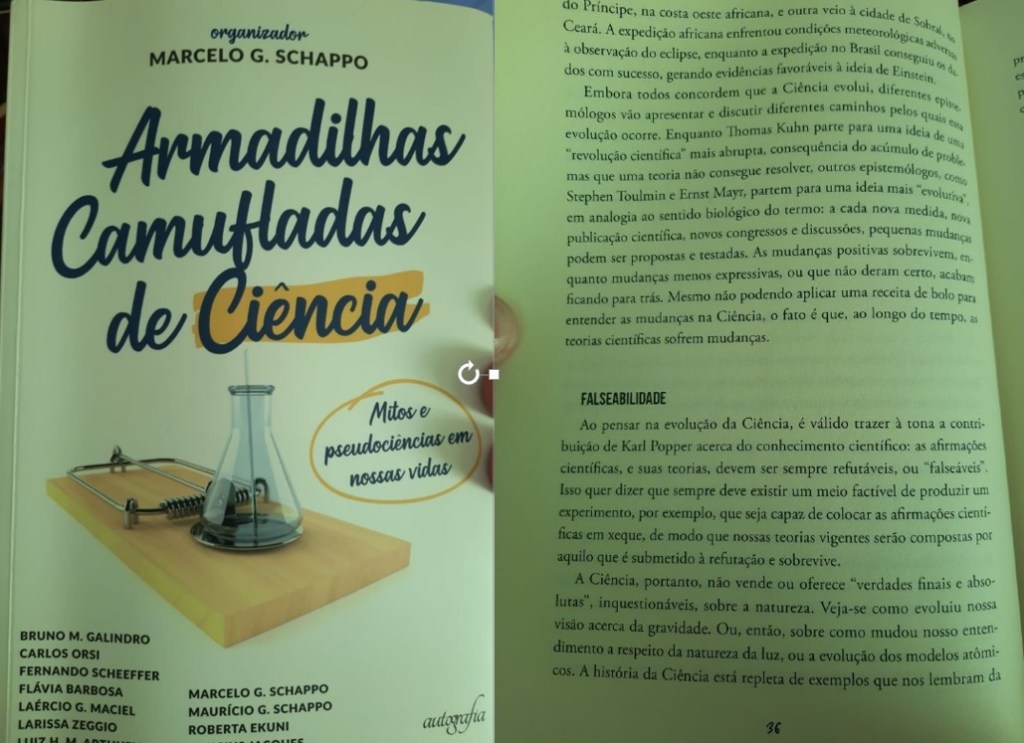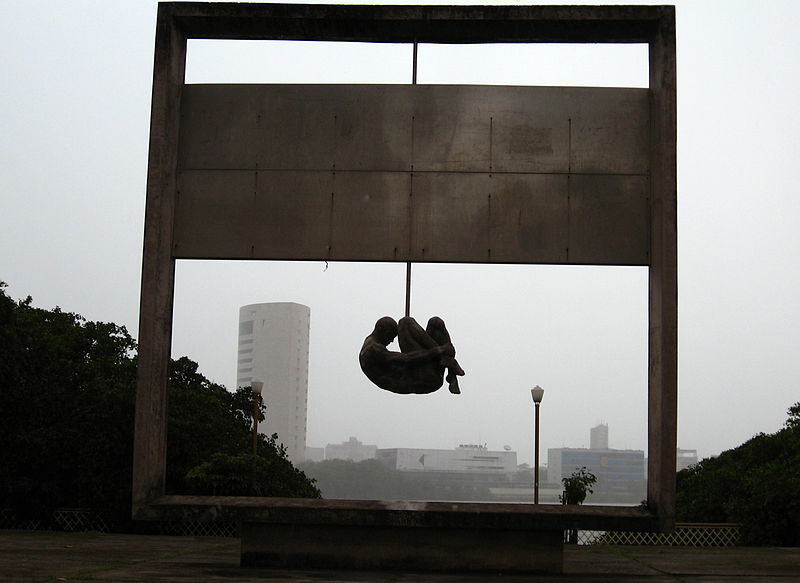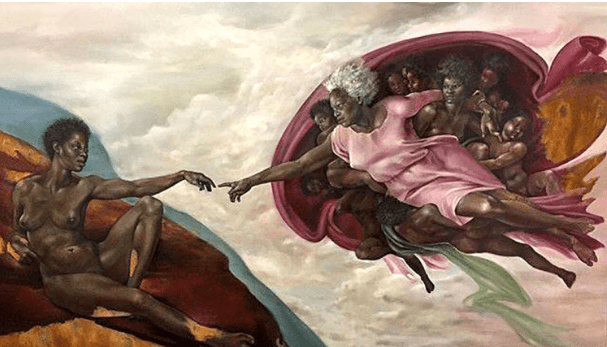Gustavo Petro, presidente da Colômbia, afirmou que a direita está encurralando o continente, avança com força, de norte a sul. Um esforço de retomada de hegemonia.
A recente vitória eleitoral do ultraconservador José Antônio Kast no Chile, figura ligada ao pinochetismo, conhecido como “Bolsonaro chileno”, dá sustentação ao alerta de Petro.
Com a vitória de Kast, a direita governará a metade dos países da América do Sul. Não fosse a eleição de Yamandú Orsi no Uruguai, a esquerda já seria minoria.
O êxito eleitoral de Kast foi sólido. Ele ganhou da candidata Jeannette Jara, conquistando 58% dos votos.
Jara, do Partido Comunista, era a candidata do Presidente Boric, ou seja, segurava a bandeira da sucessão de um governo progressista.
Mas sua condição de candidata da situação não foi bem uma vantagem. Jara foi alcunhada como a “continuidade”, o que revela certo desgaste do governo Boric.
O governo Boric fez a reforma da previdência, rompendo com o sistema adotado a partir da ditadura de Augusto Pinochet. No modelo subjugado, o trabalhador financiava sua aposentadoria sem contribuições do empregador.
O novo sistema previdenciário deu resultado aos seus beneficiários e, já de saída, garantiu aumento real aos aposentados e pensionistas mais pobres.
Dentre outras medidas de destaque, Boric aprovou a redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais, valorizou o salário-mínimo e criou um fundo estatal para arcar com pensões alimentícias atrasadas, em benefício das crianças.
Ainda que com esses resultados para apresentar, o governo Boric sofreu profundo desgaste por não conseguir avançar mais com a agenda que o elegeu, pelo fracasso do processo constituinte e por enfrentar enorme crise de segurança pública.
Com um congresso de maioria hostil – a direita e extrema-direita contando com 68 dos 155 deputados; a esquerda com 53 -, o governo não conseguiu avançar nas promessas de campanha. Não formou maioria para a principal reforma, a tributária, o que impediu Boric de romper com um sistema fiscal fortemente regressivo e de incrementar a arrecadação.
Sem dinheiro em caixa, Boric não pode financiar os programas sociais pretendidos.
Mais pedras no meio do caminho: o fracasso do processo constituinte, com dois plebiscitos rejeitado a “nova Constituição”, de modo que se manteve de pé o texto constitucional outorgado durante a ditadura militar de Augusto Pinochet.
Foram duas assembleias constituintes, a primeira com representação predominantemente de esquerda e a segunda, de direita. E as duas propostas, uma de perfil progressista, outra de conteúdo conservador, foram rejeitas pela população via plebiscito, gerando descrença nas mudanças. Quem pagou a conta foi Boric.
Pior. A segunda assembleia constituinte, embora não conseguindo emplacar o seu texto no plebiscito, obteve como efeito consolidar o discurso e liderança de Kast.
No entanto, o maior desgaste da popularidade de Boric foi a crise da segurança pública. Sua política na área sofreu críticas de todos os lados. A direita o acusou de omissão. A esquerda, de utilizar aos mesmos métodos repressivos próprios dos governos anteriores, como, por exemplo, a presença de militares nas ruas.
Possivelmente a questão da segurança pública seja o fator preponderante para o desgaste de Boric e a derrota de sua sucessora.
Em 2026, têm eleições no Brasil e na Colômbia, dois países com presidentes ligados ao campo progressista. Registro: não levo em conta eventual deposição ilegal de Maduro pelos EUA.
Tanto aqui no Brasil como lá na Colômbia, certamente o tema da segurança pública vai ser pautado pela direita, pelo rentismo/sistema financeiro e pela grande mídia empresarial.
As vitórias de Lula e de Iván Cepeda (escolhido pela esquerda como sucessor de Gustavo Petro) serão decisivas para evitar a retomada da hegemonia da direita no continente.
Até por isso, essas duas eleições estarão na lupa internacional. Não precisa ser adivinho para antever o intervencionismo, direto ou mascarado, dos Estados Unidos.
As eleições chilenas sinalizam que o Lula deve se preparar para o embate sobre a segurança pública.
A direita bolsonarista vai pautar o tema como assunto principal na campanha eleitoral.
E ainda tem o Trump. Espero que role um clima…